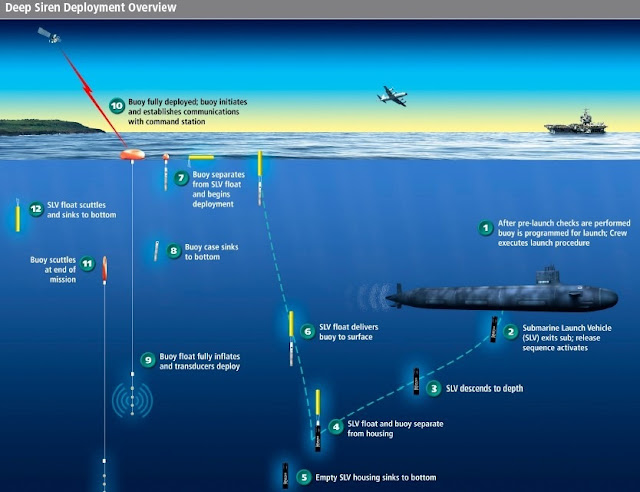Nesta fase, é fundamental que seja feita uma criteriosa seleção dos fatos pertinentes a serem analisados, tendo em vista que, normalmente, não se disporá do tempo necessário para enunciar todas as evidências disponíveis.
FRASE
domingo, 16 de junho de 2024
Planejamento Militar - Exame de Situação Abreviado (ESA) - (Parte 6) *240
Nesta fase, é fundamental que seja feita uma criteriosa seleção dos fatos pertinentes a serem analisados, tendo em vista que, normalmente, não se disporá do tempo necessário para enunciar todas as evidências disponíveis.
domingo, 26 de junho de 2022
Planejamento Militar - Diretivas e Controle da Ação (Parte 5) *233
Planejamento Militar - O plano de ação (Parte 4)
Diretivas
Uma diretiva é um conjunto de instruções para execução de um plano. O objetivo do PPM é a construção de um plano de ação visando o cumprimento da missão designada. Uma vez que este plano está consolidado, emitem-se as diretivas, que são documentos contendo instruções a respeito do plano.
A cada operador pode ser emitida uma diretiva diferente, dentro do mesmo plano, uma vez que cada um terá uma tarefa diferente a cumprir. As diretivas não estão condicionadas à formas rígidas, e devem ser tão sucintas quanto possível, expondo de forma clara, simples e concisa, a L Aç selecionada a quem deve executá-la. Deve limitar-se a conter as informações necessárias para que os comandos subordinados a compreendam de forma inequívoca, servindo de base para a preparação de planos e ordens destes. Um plano é o registro de uma intenção complexa e sistemática, enquanto que uma ordem é a designação para uma ação imediata e que deverá ser cumprida no prazo designado.
Como exemplos mais comuns de diretivas temos as cartas de Instrução; planos de campanha; planos de operação; plano de contingência; plano preliminares; ordens de operação; ordens de movimentação; ordens preparatórias e de instrução; planos complementares; etc...
Uma carta de instrução ou diretriz inicial é uma diretiva expedida para fins de orientação do planejamento dos comandos subordinados. Expõe a situação e indica a missão e a decisão do expedidor, as tarefas atribuídas, as relações de comando e a área de operações. Também transmite instruções especiais, tais como as relativas às comunicações, adjudica meios, define responsabilidades e especifica os relatórios a serem elaborados, que permitem o controle da ação planejada.
Um plano de campanha é uma diretiva formulada pelo comandante de um teatro de operações para expressar a sua decisão, em termos de operações específicas a serem planejadas, realizadas durante um período de tempo definido para a conquista e manutenção de objetivos estratégicos estabelecidos para a hipótese de emprego. Ele especifica operações de grande envergadura, indica os meios necessários, para a fase inicial da campanha, adjudica as forças, organiza os comandos, atribui as tarefas e estabelece as normas básicas para sua coordenação.
Um plano de operação é um tipo de diretiva relativa a operações a serem realizadas em futuro não imediato, envolvendo tempo e espaço consideráveis. O plano de operação é expedido por um comandante de força para transmitir orientações aos comandos subordinados para o preparo de seus planos ou ordens dela decorrentes. Pode destinar-se a uma única operação ou a uma série de operações relacionadas, a serem executadas simultânea ou sucessivamente. Pode ser usado para fins de adestramento, desde que expresse a solução dada pelo comandante a um problema militar, concebido com aquela finalidade, representando uma simulação de operações de guerra. Nesta circunstância, deve ser claramente mencionada a sua condição de documento de exercício.
Um plano de contingência é um plano expedido por um comandante de força, que estabelece o procedimento a ser seguido, caso não se confirme a suposição acerca de uma situação existente, determinada ocorrência ou condição prevista ou pressuposta (hipótese básica) formulada no seu plano de operações distribuído pela referida autoridade.
Um plano preliminar é um esboço geral antecipado de um determinado plano, apresentando os pontos primordiais que devem orientar a elaboração do plano a que se refere. Em uma operação anfíbia, por exemplo, é uma diretiva que marca a passagem da sua fase do planejamento preliminar, onde são tomadas as decisões fundamentais, para a fase do planejamento detalhado. Conterá as informações necessárias ao início do planejamento formal dos elementos subordinados, desta forma viabilizando que estes analisem as tarefas e meios recebidos e possam concluir pela sua capacidade de cumpri-las ou pela necessidade de meios adicionais, a qual será repassada, analisada e consolidada pelos comandos superiores.
Uma ordem de operação é uma diretiva expedida, com a finalidade de determinar a execução coordenada de uma operação específica a ser realizada imediatamente ou em futuro próximo. Trata-se de uma ordem efetiva para a realização de determinada operação, não devendo, portanto, conter hipóteses básicas. Uma ordem de operação pode ser elaborada para complementar um plano de operação já distribuído ou, ainda, para determinar sua execução. Ocasionalmente, ao serem completados todos os preparativos para uma operação, um comandante pode substituir um plano por uma ordem de operação. Esta diretiva pode ser utilizada para fim de adestramento, desde que expresse a solução a um problema militar, concebido com aquela finalidade, representando uma simulação de operações de guerra.
Uma ordem de movimentação é uma diretiva usada para determinar a movimentação de forças ou unidades quando não se justifique o emprego de outro tipo de Diretiva.
Uma ordem preparatória ou de instrução é uma diretiva que se destina a alertar os comandantes subordinados sobre operações iminentes, transmitindo-lhes informações já disponíveis e orientações iniciais, além das orientações quanto ao preparo que a tropa deve possuir, e se for o caso, as providências já encaminhadas para que este preparo seja alcançado. Possibilita que medidas preparatórias sejam tomadas, visando a facilitar futuras ações e que estudos e estimativas preliminares sejam iniciados.
Um plano complementar é uma diretiva que complementa um diretiva inicial, à qual normalmente, é anexado. Destina-se a detalhar ações, a orientar a execução ou a estabelecer normas de operações ou serviços específicos mencionados na diretiva básica. A inclusão de alguns assuntos em planos complementares, além de evitar que a diretiva básica fique sobrecarregada com particularidades excessivas, permite também maior flexibilidade no tratamento de matérias que devam ter divulgação mais restrita. Um plano complementar, de acordo com a sua natureza, poderá ter, entre outras, as seguintes denominações: plano de movimento, plano de comunicações, plano de guerra eletrônica (EW), plano de inteligência, plano logístico, plano de minagem e contraminagem, plano de apoio de fogo, plano de ações aéreas, plano administrativo, plano de ação de superfície, plano de ação de submarinos, plano de emprego de aeronaves, plano de embarque, etc...
Uma Diretiva deve interpretar fielmente o pensamento, a decisão e a determinação do comandante que a expedir e ser bem compreendida pelos que a receberem. Para que isso seja possível, é essencial que atenda a requisitos que a façam um documento claro, conciso, completo e que expresse incisivamente a determinação e transmita objetivamente suas intenções e vontade.
A estrutura de uma diretiva depende de seu tipo, que está associado à finalidade. Porém, de um modo geral, as diretivas constam de um documento básico e partes complementares (Anexos). O documento básico, ou corpo da diretiva, normalmente apresenta, além da organização por tarefas, a missão, as ordens e instruções necessárias para dar uma sucinta e clara ideia da situação, da execução e de outras informações essenciais. As partes complementares, por outro lado, contêm procedimentos particularizados e informações mais completas, que ampliam e complementam o contido no corpo da diretiva, e podem ser de interesse específico. As partes complementares poderão ser planos complementares ou conter outros assuntos que, devido à sua complexidade e amplitude, não convém que constem do documento básico, como, por exemplo, um conceito da operação ou uma organização por tarefas muito extensos ou detalhado.
3ª Etapa
O Controle da
Ação Planejada
Toda operação
deve ser controlada durante sua execução e seus rumos devidamente corrigidos
sempre que necessário. Este controle deve ser planejado antes da operação
iniciar e realizado durante a sua execução, em processo contínuo.
O Planejamento
O planejamento
deste controle é um processo contínuo que se inicia nas primeiras fases do
exame da situação e prossegue até o fim da 2ª Etapa. Nas primeiras fases
do exame da situação, será verificado quais as informações serão repassadas ao
escalão superior na avaliação do progresso da operação por este comando. Os
conteúdos não devem ser insuficientes nem excessivos, evitando-se o
mascaramento de informações importantes. Na fase 7 da etapa anterior, os
relatos desejáveis serão especificados no parágrafo "COMANDO E
CONTROLE" da diretiva, e tratarão das informações necessárias a serem
repassadas para o controle da operação em tempo real e cumprimento da missão.
Esta informação é vital para o sucesso do plano e deve ser formatada
especificamente a cada operação, pois relatos padronizados ou de rotina podem
não satisfazer. Para conseguir um fluxo de informações eficaz, o conteúdo deve
ser ajustado de acordo com cada missão em curso e os seus efeitos desejados em
cada tarefa atribuída.
O Controle
Na realização do
controle da operação, o comandante acompanha se a ação se desenrola conforme
foi planejada. Segundo o estrategista prussiano do século XIX Helmuth von
Moltke “Nenhum plano de batalha sobrevive ao contato com o inimigo", e é
baseado nessa premissa que se evidencia a importância do seu acompanhamento.
Utilizando-se das informações fornecidas através dos relatórios dos comandos
subordinados, monitora-se o desenrolar da operação à luz do plano de ação
escolhido.
Caso isso não esteja ocorrendo, o que acontece frequentemente, deve-se identificar as causas das discrepâncias entre a operação planejada e sua execução, para se aplicar o corretivo adequado. Dentre essas causas, podemos citar: alterações imprevistas nos fatores nos quais o plano se tenha baseado; erros de julgamento; perdas ou ganhos inesperados; e alterações na diretiva recebida do escalão superior. Após identifica-las, por meio de um planejamento contínuo e cíclico, deve-se implementar os ajustes necessários, até o cumprimento da missão.
5 perguntas básicas ajudam o acompanhamento da operação:
- a operação desenvolve-se de acordo com o plano?
- o resultado atende ao efeito desejado?
- há necessidade de alteração do plano?
- há alteração no exame da situação?
- e a situação foi bem avaliada?
Se a resposta às 2 primeiras perguntas for sim, apenas continua-se o controle da ação em curso para cumprir a missão. Da mesma forma, a resposta não à primeira e à terceira implica apenas prosseguir a operação sem a necessidade de alterar o plano em vigor. As respostas às 2 últimas perguntas definem a extensão de qualquer modificação no plano e, por conseguinte, devem ser cuidadosamente determinadas.
O exame da situação contém os elementos que serviram de base para a escolha da L Aç que serviu como decisão. Dependendo da alteração ocorrida no exame da situação, como o estabelecimento de uma nova relação de comando, mudança nas limitações ao planejamento ou em qualquer outro elemento significativo do problema, o ponto de entrada para a revisão pode estar nas Fases 1, 2, 3 ou 4. O perfeito conhecimento dessas alterações e a familiaridade com o PPM indicam o ponto mais conveniente para iniciar a modificação no planejamento, que poderá conduzir à revisão da decisão. O tempo perdido na reconsideração de um fator alterado, antes de modificar o plano, pode ser mais do que compensado pela confiança em um novo plano, por estar perfeitamente baseado na metodologia do PPM e permitir que os esforços sejam concentrados na obtenção do efeito desejado.
Não existe um padrão para se realizar o exame corrente da situação, e as discrepâncias entre a operação planejada e sua execução podem requerer medidas de complexidade variável. O emprego de sistemas de processamento de dados aumenta a velocidade, o volume, e a precisão e facilidade de interpretação das informações manipuladas no exercício do C2 da ação planejada. Equipes bem adestradas nos COCs (Centros de Operações de Combate) ou PCs (Postos de Comando) são importantíssimas para a manutenção de um quadro atualizado, preciso e nítido do desenrolar das ações. Uma eficiente estrutura de C2 + comunicações eficazes (C3) será de fundamental importância para um bom controle operacional.
terça-feira, 14 de junho de 2022
Planejamento Militar - O Plano de Ação (Parte 4) *232
Planejamento Militar - O Exame da Situação Fase 4 (parte 3)
2ª - Etapa
Desenvolvimento
do Plano de Ação e Elaboração da Diretiva Operacional
Uma vez tomada a
decisão sobre a L Aç a ser adotada, cabe ao comandante botá-la em prática, ou
implementá-la. Nesta fase deverá ser reestudada com maior critério e
profundidade a decisão tomada, de modo a viabilizar que as várias tarefas que
deverão ser executadas sejam convenientemente implementadas de forma a eliminar
possíveis erros presentes em análises precipitadas.
Neste momento será estabelecida com precisão como a decisão será implementada, quem a
executará, e de forma facultativa, onde e quando. Serão determinadas as instruções
aos envolvidos na missão, a organização das unidades e meios, confeccionados e
divulgados os documentos contendo instruções, orientações e informações
pertinentes. 9 fases orientam e permitem fazer esta organização de forma lógica:
Fase 1 - Reexame
da Decisão
Primeiro se
procede um reexame da decisão tomada e se monta o conceito inicial da operação,
reavaliam-se as hipóteses básicas que embasaram a decisão para checar sua
validade, elencam-se as tarefas componentes e de apoio a serem realizadas e quem
às executará, determinam-se como cada tarefa componente deverá ser executada,
procedem-se a organização das unidades que participarão da missão e o que cada
uma fará, tabulam-se as tarefas de cada unidade participante e determina-se seu
adestramento específico, identificando-se os gargalos logístico-administrativos e
de comando e encaminhando-se sua solução, prepara-se a distribuição de informações
a quem interessar e por fim emitem-se as diversas diretivas operacionais aos
operadores de todos os níveis.
O detalhamento do
plano de ação poderá ensejar a modificação de tarefas já definidas, uma vez que
o processo é cíclico. A diretiva operacional é o documento que estabelecerá a
instrução de execução de cada tarefa e fornecerá as informações relevantes ou
onde encontrá-las aos operadores envolvidos.
Na fase de
reexame da operação, os planejadores irão reexaminar a L Aç escolhida de forma
mais focada, pois na sua formulação muitas ideias estavam tramitando em suas
mentes, não muito bem concatenadas. Ao se formular o conceito preliminar da operação
(CPO) buscam-se bases mais sólidas para o planejamento.
Para tanto, busca-se garantir um plano preliminar lógico e consistente, examinando os seguintes aspectos de forma objetiva:
- Reexamina-se o enunciado da missão e a decisão tomada;
- listam-se os efeitos desejados e os objetivos principais e acessórios, se houverem;
- relacionam-se os fatores de fraqueza do inimigo com os fatores de força próprios;
- relacionam-se os fatores de fraqueza próprios com os pontos fortes do inimigo e busca-se como evitá-los; avalia-se as formas de exploração do princípio fator surpresa;
- avaliam-se as limitações e facilitadores relativos às operações de apoio no que tangem à comando e comunicações, logística, inteligência, segurança e proteção, mobilidade e outros que se façam necessários.
Fase 2 - Reavaliação
da Hipóteses Básicas
A próxima fase
consiste em reavaliar as hipóteses básicas (HB), verificando sua validade. As
HB devem ser reduzidas ou eliminadas se possível, conferindo mais flexibilidade
ao plano, evitando que fique amarrado à condições cujas informações podem ser
insuficientes e/ou deficitárias. Para as HB mantidas, deve-se elaborar planos
acessórios, reiniciando-se todo o processo já descrito, desta vez de forma
focada nas HB em questão. Se for necessário emitir a diretiva imediatamente
devido a exiguidade de tempo para execução da operação, as HB não analisadas
deverão ser omitidas.
Fase 3 - As
Tarefas Componentes
A fase 3 tratará
das tarefas componentes. Serão elencadas as operações necessárias para que o
plano de ação seja implementado. Todos os requisitos relacionados à L Aç
escolhida serão revistos, e identificadas as tarefas necessárias para atendê-los.
Primeiramente relacionam-se todos os requisitos (ofensivos, logísticos,
defensivos, inteligência e de mobilidade constantes da CPO) com suas
respectivas tarefas, quem as executará, meios necessários, etc... em uma matriz
auxiliar. Analisam-se as tarefas inerentes a cada requisito, seus meios necessários
e que unidades a irão cumprir, bem como a formação de agrupamentos (sub-forças-tarefa).
Caso a unidade envolvida não seja orgânica, pertencendo a outro comando ou mesmo outra força
amiga, sua disponibilidade deverá ser previamente consultada, bem com sua
capacidade de cumprir a tarefa.
Não devem ser
elencadas tarefas previamente preconizadas, como por exemplo a defesa antiaérea
de um navio feita pelo próprio navio ou a segurança de um estacionamento feita
pela unidade estacionada, já que se trata de um procedimento padrão e de execução
lógica. Ao final do preenchimento da matriz, deve-se atentar para o surgimento
de conflitos, onde uma unidade esteja envolvida em mais de uma tarefa, e
encaminhar sua solução. Embora estas tarefas previamente preconizadas pela
doutrina sejam problema dos operadores em seus respectivos estudos de situação,
o comandante deverá certificar-se que seus subordinados (operadores) terão os
meios necessários ao cumprimento destas tarefas. Assim, a análise do Comandante
precisa ser conduzida até o ponto em que ele julgue ter essa certeza.
Fase 4 - Formas
de Execução de Cada Tarefa
A fase 4
estabelece como cada tarefa componente será executada. Serão determinadas a
composição de cada sub-força-tarefa, as possibilidades de apoio mútuo e as
medidas necessárias de C2.
Ao se destacar
cada sub-força-tarefa e determinar sua composição, deve-se examinar com a máxima
precisão quais serão os requisitos de cada tarefa. Este procedimento garantirá
que cada operador contará com os meios necessários ao seu cumprimento. Para a
situação que se elenca um pequeno número de tarefas a técnica mais adequada
é a de se analisar cada uma das tarefas, permitindo visualizar os aspectos de
apoio mútuo e coordenação. Quando as tarefas elencadas forem em número grande a
técnica mais adequada é estudar as sub-forças-tarefas, individualizando como cada força
destacada as executará.
A seguir se
relacionam os tipos e o número de meios necessários para a execução de cada tarefa.
Portanto, somente agora deve-se desmembrar os meios, relacionados na tabela
elaborada na fase anterior, para compor cada grupo, embora sem identificá-los
ainda.
Na sequência
estabelecem-se as instruções de apoio mútuo e C2 com todas as forças componentes
(operadores). Quando o operador for uma força amiga, não subordinada, deve ser
verificado se ela está capacitada a cumprir a tarefa que lhe será solicitada e
como será feita a coordenação (C2). No quesito coordenação (C2) elaboram-se as
instruções relativas a datas e horas, movimentos, pontos de encontro, áreas de
operações e outros assuntos referentes às tarefas elencadas, evitando interferências
mútuas. Os operadores também poderão elaborar instruções e planos para
preencher possíveis lacunas existentes nas diretivas emitidas, bem como para
atender às doutrinas e procedimentos padrões em vigor. Sempre que for
conveniente, devem ser empregados planos e formaturas doutrinárias.
O comandante tem
melhores condições de determinar as necessidades de apoio mútuo na força sob
seu comando, ou seja, o apoio de um grupo (sub-força-tarefa) a outro, pois ele
tem uma visão global da operação e da participação nela de cada grupamento em
particular. Além disso, stá investido da autoridade para ordenar o apoio mútuo.
Desse modo, caso julgue essencial, pode atribuir tarefas de apoio, em
aditamento às já estabelecidas na fase anterior. Da mesma forma, ele deve
considerar a conveniência da coordenação de esforços entre 2 ou mais grupos,
pois a coordenação (C2) tem importância vital para uma operação, especialmente
naquelas de mais difícil execução como por exemplo assaltos anfíbios ou
aeroterrestres e de apoio logístico. O comandante tem a responsabilidade de
estabelecer as instruções para a coordenação, uma vez que é ele o superior dos
grupos formados e o responsável pela determinação do auxílio a ser solicitado às
forças amigas. Quando a operação estiver interrelacionada com as operações de
escalões superiores ou do mesmo escalão, o comandante deverá determinar as medidas
cabíveis necessárias à coordenação.
Completando a
fase 4, devem ser listadas as demais instruções, cuja necessidade tenham
aparecido no decorrer da análise efetuada nesta fase. Essas instruções constarão
do próprio corpo da diretiva ou de planos complementares específicos, incluídos
como anexos, tais como: plano de inteligência, conceito da operação (instruções
sobre como serão executadas as tarefas elencadas), plano logístico, plano de comunicações, plano de guerra eletrônica (EW), e outros que se mostrem necessários.
Poderá ocorrer ainda a necessidade de estabelecer instruções sobre o
adestramento e ensaio necessários para assegurar um estado de prontidão
satisfatório para as forças; instruções sobre os dados a serem encaminhados
pelos comandos subordinados, necessários ao controle durante a fase preparatória da
operação e durante o controle da ação planejada etc.
As instruções
deverão estar de acordo com as diretrizes estabelecidas pelos escalões
superiores, nas cadeias de comando operativa e administrativa. No que se refere
às instruções sobre necessidades logísticas, é importante considerar sempre o
tempo morto entre a determinação das necessidades e a obtenção de material,
especialmente aquele julgado crítico para a operação. Nem todos os aspectos
indicados como pertinentes a esta fase devem ou podem ser completados antes de
se passar para as fases subsequentes.
Fase 5 - Organização
por Tarefas
A próxima fase ou fase 5 tem a finalidade de estabelecer formalmente a estrutura de comando e distribuir os meios que constituirão cada força componente, designando agora elementos específicos para compor a organização por tarefas. A organização por tarefas deve atentar para que todos os grupos criados na fase 3, constem com sua(s) respectiva(s) tarefa(s) atribuída(s); deixando a organização das tarefas nas respectivas subdivisões por conta de seus respectivos comandantes subordinados. Entretanto, para assegurar a eficiência do controle, pode ser preferível estabelecer logo uma cadeia de comando mais complexa, com a indicação dos comandos intermediários; sendo que o número de grupos variará de acordo com o escalão do comandante e a complexidade da missão que lhe foi atribuída.
Inicialmente,
prepara-se um organograma da força, o qual servirá de base para a organização
por tarefas final da força que executará a missão. Este organograma deve
basear-se na subdivisão da força concebida na Fase 3, e procurar conter os tópicos
coordenação (cada subcomando com suas tarefas, evitando-se duplicidade),
amplitude de controle (cada grupo com número de subordinados compatíveis com
sua estrutura de C2), homogeneidade (composição do grupos por tarefas e meios
similares) e delegação de autoridade (autoridade dos subcomandantes compatível
com suas responsabilidades).
No organograma
constarão os nomes ou codinomes dos grupos, do mesmo modo que aparecerão na diretiva. Os títulos, normalmente, fazem referência à tarefa principal que o
grupamento executará, ou não, dependendo do grau de sigilo requerido. Todos os
grupos criados na Fase 3 devem constar do organograma. Naquela ocasião não se
havia ainda definido se seriam grupos, unidades ou elementos-tarefa; agora,
eles serão assim especificados, em função da posição que ocuparão no
organograma.
Deve-se relacionar as unidades que deverão compor cada grupo operativo. Pode ser vantajoso manter no mesmo grupo meios que possuam características semelhantes, tais como: limitação de velocidade, atividade atual, grau de aprestamento, localização física ou fazer parte da mesma organização administrativa (batalhão, esquadrão, base, etc...). Em seguida devem ser designados os comandantes subordinados. Exceto nos altos escalões de comando, ou sob circunstâncias especiais, esta designação deve considerar a precedência hierárquica entre esses comandantes.
Para redigir a
organização por tarefas, listam-se os grupos (sub-forças-tarefa) em sequência,
precedendo-os por um designativo (a,b,c; 1,2,3). A cada grupo-tarefa é atribuído
um número designativo e um título descritivo. O posto e o nome do comandante
podem ser mencionados, abreviadamente, ao lado do título. Imediatamente abaixo
do título deve constar a sua composição. Indica-se os componentes de cada
grupo-tarefa, quando apropriado, pelo uso de títulos abreviados das organizações
administrativas, quando seus comandantes estiverem presentes. Também pode-se
fazer a indicação por meio do nome da unidade. Quando a organização por tarefas
for extensa, é recomendável relacionar, no corpo da diretiva, somente o título
dos grupos principais e preparar um anexo, com uma organização por tarefas
detalhada.
Fase 6 - Tarefas
e Instruções
Na Fase 6 as
tarefas e instruções para os subordinados serão formalmente redigidas. Assim,
os parágrafos “EXECUÇÃO”, “ADMINISTRAÇÃO” e “LOGÍSTICA", da diretiva, serão
completados nesta fase. Além disso, outras instruções ou planos, iniciados na Fase 4, deverão ser concluídos nesta parte do planejamento.
As tarefas dos
grupos-tarefa são transcritas mantendo-se a sequência e os indicativos que os
precedem na organização por tarefas, preparada na fase anterior. Abaixo de cada
grupo relacionam-se as tarefas correspondentes e as instruções individuais,
quando necessárias, para prover cooperação ou evitar interferência com outro
grupo. Cada um dos grupos com as suas tarefas, na forma e sequência mencionadas,
constitui, na diretiva, um subparágrafo do parágrafo "EXECUÇÃO".
As tarefas devem
ser redigidas em linguagem formal, nos termos que deverão constar da diretiva,
isto é, com o emprego do verbo no infinitivo, ao invés de no futuro, exprimindo
uma ordem. Elas devem ser enunciadas de modo claro, conciso e preciso, a fim de
evitar falhas de interpretação. Todos os grupos operativos criados devem ter,
pelo menos, uma tarefa. Subdividir-se um grupo em grupos menores e atribuir
tarefas apenas para o grupo maior é um erro. Isso demonstra que houve um erro
na fase 3, quando se dividiu a força em grupos componentes sem que a esses
fosse atribuída, pelo menos, uma tarefa.
As tarefas a
serem executadas por 2 ou mais grupamentos são relacionadas às instruções gerais,
de natureza operativa, serão posteriormente transcritas no subparágrafo
"Instruções para Coordenação", da diretiva. Normalmente são instruções
relativas à segurança; apoio; horários e duração de eventos; cooperação entre
dois ou mais grupos; instruções quanto à entrada em vigor da diretiva e sua saída
e, se for o caso, data de cancelamento e a autorização para destruí-la; instruções
táticas; e momentos de ativação e desativação de grupos, etc.
É importante que
não haja ambiguidade ou dúvida quanto aos grupos a que essas instruções se
referem. Se houver necessidade de transmitir instruções mais detalhadas, é
conveniente não incluí-las no corpo da diretiva. Evita-se, assim, torná-la
extensa, com o acréscimo de pormenores que, via de regra, não são do interesse
geral. Essas instruções deverão constar da diretiva como anexos, tais como:
Plano de Batalha, Plano de Defesa, Plano de Mobilidade, que deverão ser concluídos
nesta fase. Na diretiva, a referência a eles é feita no subparágrafo
"Instruções para Coordenação".
As instruções de
coordenação necessárias à direção e ao controle do apoio administrativo e logístico
constarão do ítem "Administração e Logística". No qual deverão ser
estabelecidas as normas e procedimentos de caráter administrativo e logístico,
indicando suprimentos, facilidades e serviços existentes, assim como o responsável
por provê-los, quando e onde estarão disponíveis. Caso os subordinados tenham
recebido essas informações, por meio do plano logístico do superior ou de
qualquer outra fonte, basta uma referência a essa fonte. Pelas razões expostas
anteriormente, sendo as informações e instruções de logística extensas e
detalhadas, elas deverão constituir um anexo à diretiva, denominado "Plano
Logístico", ao qual será feita referência no parágrafo "Administração
e Logística" da diretiva.
A seguir, inicia-se a elaboração do conceito da operação, que é um documento, sem formatação rígida, a ser divulgado para os subordinados e que contém, basicamente, a ideia de manobra do comandante, abordando detalhes não evidentes nas tarefas atribuídas aos subordinados, tais como: intenções do comandante; duração de eventos; limitações e prazos a respeitar; orientação para a execução de tarefas; e fases da operação, se houverem etc.
A existência de um
anexo contendo o conceito da operação deverá ser mencionada no parágrafo após a
redação da decisão e antes dos subparágrafos que contêm as tarefas de cada
grupo. Caso esse anexo não seja confeccionado, uma sucinta exposição do
conceito da operação poderá ser incluída no próprio parágrafo da diretiva,
servindo como uma extensão da decisão. Na atribuição de tarefas, deve-se
permitir aos subordinados imediatos a máxima liberdade de decisão compatível
com a necessidade de coordenar as operações correlatas. Assim, as instruções
sobre como cumprir uma tarefa devem ser dadas apenas no grau suficiente à total
compreensão e à efetiva coordenação entre os subordinados. Se o comandante
desejar transmitir uma orientação, quanto à sua preferência na maneira de
executar determinada fase de uma operação, sem pretender atribuir tarefas
detalhadas para cada ação concebível, poderá fazê-lo no conceito da operação.
Fase 7 - Informações
de Comando e Controle
No parágrafo “Comando
e Controle” da diretiva, lista-se os aspectos de comando pertinentes à operação
que está sendo planejada. Nesse ítem listam-se o nome do substituto eventual do
comandante (subcomandante), a localização do comandante (seu posto de comando e
de seu eventual) e as instruções de comunicações que serão constadas em um anexo, se
forem extensas. Este parágrafo também poderá conter instruções sobre relatórios
que os comandantes subordinados deverão enviar na forma de informações
operativas, tais como detecções, resultados de engajamentos, consumos de combustível
e de munição, avarias, baixas e outras consideradas relevantes, que permitirão
avaliar se a operação está se processando de acordo com os planos e se estes de
fato estão conduzindo ao cumprimento da missão, ou seja, possibilitarão o
controle da ação planejada. Tais relatórios devem levar consideração a missão
de cada comando subordinado e os efeitos desejados a serem obtidos em cada
tarefa atribuída.
Outros anexos
pertinentes a esta fase, tais como o Plano de Guerra Eletrônica (EW), por
exemplo, caso sejam confeccionados, deverão estar concluídos antes de iniciar o
estudo da próxima Fase. Outras instruções poderão ser acrescentadas, além das
sugeridas nos itens acima, como por exemplo, as relativas à autoridade dos
subordinados quanto ao emprego de armamento de elevado poder de destruição,
referências especiais a regras de engajamento, etc...
Fase 8 - Informações
aos Comandantes Subordinados
O parágrafo “Situação”
trará uma descrição sumária e objetiva da situação, situando os comandantes
subordinados dentro do problema militar a ser enfrentado. Este parágrafo
discorrerá sobre a situação geral, as forças inimigas e amigas, as incorporações
e destaques e as hipóteses básicas.
Este deve conter
apenas as informações essenciais para o seu perfeito entendimento, porém, pode
ocorrer dessas informações serem extensas. Nesse caso, elas devem ser incluídas
no anexo "plano de inteligência", fazendo constar neste parágrafo
apenas uma referência quanto à existência desse anexo.
Primeiramente se
apresenta uma descrição sumária e objetiva da situação geral, com as missões
deste comando e do escalão superior, se disponíveis e autorizadas. Detalhes já
conhecidos podem ser omitidos. Deve-se neste ítem analisar, selecionar e
completar, com critério, as informações contidas no parágrafo correspondente da
diretiva do escalão superior. Caso esta diretiva não esteja disponível à todos,
deve-se citar as informações relevantes e não apenas fazer referência à elas,
de forma que sirvam (sejam úteis) ao planejamento de todos.
As forças
inimigas relacionadas à operação e não mais que isso, devem ser descritas, bem
como as forças que poderão vir a ter influência. Cada grupo conhecido de forças
inimigas deve constar de um item numerado; incluindo forças navais, aéreas e
terrestres e contendo a composição, localização e dispositivos caso sejam
conhecidos e de forma sucinta. Conhecimentos mais detalhados, se existentes,
deverão constar de um anexo "Plano de Inteligência", o qual deverá
ser referenciado.
Sobre forças
amigas deve-se dispor informações sobre forças navais, aéreas e terrestres que
não estão na organização por tarefas, mas que irão contribuir para o
cumprimento de sua missão. Deve-se informar sua disposição e como poderão
contribuir, de forma suscinta e restritas ao necessário. Devem ser informadas
em itens numerados, começando pelo escalão mais elevado e descendo.
Nas incorporações
e destaques devem ser indicadas as unidades incorporadas ou destacadas à força
no decorrer da operação, especificando a ocasião em que tais incorporações e
destaques devem ocorrer. Devem constar apenas as unidades que participam da
operação por um determinado período de tempo, ou seja, entrando para a
subordinação do comandante que assina a diretiva, vindo de outra; ou saindo da
desta subordinação e indo para outra. Nas incorporações e desincorporações, a
mudança de subordinação é definitiva, enquanto que nos destaques é temporária.
Quando não houver nada previsto, a palavra "Nenhuma" deverá constar deste
subparágrafo. Quando forem em grande número, é conveniente que sejam constadas
em um anexo bem como seus eventos, citando a existência desse anexo no subparágrafo.
As hipóteses básicas
somente constarão dos planos de operações (nunca nas ordens de operação),
relacionam-se àquelas conservadas na Fase 2 ou indicadas pela palavra
"Nenhuma" se não houverem.
Ao chegar ao
final desta fase, é conveniente que se reveja mais uma vez o planejamento, de
modo a elucidar pontos ainda pouco claros e eliminar o que for desnecessário,
aprimorando o produto de cada fase. Também se for constatado a necessidade de
algum apoio externo ainda não previsto, deve-se tomar logo as primeiras providências
para que esse apoio esteja disponível quando necessário.
Fase 9 - A
Diretiva Operacional
O plano de ação final é exposto em um documento (diretiva) para divulgação aos comandantes subordinados, que deverá seguir um formato padrão familiar a todos. Todo o material necessário para compor o corpo da diretiva e seus anexos estará disponível como fruto do trabalho das fases anteriores.
A diretiva será
um documento básico com as informações principais e seus anexos (planos), que
conterão informações complementares e detalhadas sobre os tópicos do documento
principal, evitando que este fique muito extenso. Os tópicos básicos da diretiva
podem ser a situação, missão, execução, logística e C3 (comando, controle e
comunicações), contendo ainda a organização da força e outros itens como conteúdos
introdutórios e conclusivos, e é claro os anexos.
A leitura dos anexos pode não interessar a todos, já a do corpo principal sim, pois contém instruções de interesse geral, tais como um panorama sucinto e claro da situação, missão, decisão, tarefas atribuídas aos comandantes subordinados etc. Os anexos conterão procedimentos detalhados e informações adicionais que ampliam as informações de caráter geral constantes do corpo da diretiva, e são de interesse específicos daqueles que trabalharão naqueles detalhes. Entre os anexos mais comuns temos: conceito da operação, organização por tarefas detalhada, plano de batalha, plano de comunicações, plano de guerra antiaérea e defesa aérea, plano de guerra anti-submarino, plano logístico, plano de mobilidade, plano de controle de espaço aéreo, plano de desembarque, plano de organização para o combate e outros.
segunda-feira, 23 de maio de 2022
Planejamento Militar - O Exame da Situação (Parte 3) *230
Fase 3 – Linhas de Ação x Possibilidades do Inimigo
Cada Linha de Ação (LA) a ser adotada deve ser comparada com as Possibilidades
do Inimigo (PI) em relação a esta linha de ação. Nesta fase, o comandante já
dispõem das informações necessárias a respeito de sua missão. Ao final deste
estudo serão elencadas as LA Provisórias que tenham as melhores chances de alcançar os
objetivos definidos. É importante que sejam sugeridas propostas de LA sem
qualquer restrição prévia, dando-se “asas à imaginação”, desde que não se
desvie dos objetivos da missão. Ideias rejeitadas previamente podem conter
fragmentos úteis, que podem ser encaixados com sucesso em proposições mais
pragmáticas, tornando estas mais robustas. O planejamento é um processo cíclico,
onde as ideias são refinadas paulatinamente, e ideias pouco ortodoxas podem
contribuir para o refinamento daquelas mais factíveis.
Possibilidades do Inimigo (PI)
As PI são as linhas de ação que inimigo pode adotar para contrapor uma LA
planejada. Elas devem ser compatíveis com os meios que o inimigo tem sua
disposição e serem capazes de interferir no cumprimento da missão. A seção de
informações da unidade (S/2 ou outra conforme a força) é a principal fonte das informações a cerca das PI,
que são supostas ações amplas, que podem ser empreendidas dentro de determinas
condições aceitáveis ao inimigo.
Valendo-se das conclusões da análise prévia da fase I, o órgão de
informação (S/2) a disposição do comandante, listará todos os prováveis e
possíveis objetivos que o inimigo buscará para frustrar a missão ora em
planejamento, e em seguida identificará de que forma estas supostas ações
poderão influir. Dessa forma se definirão as ações adequadas a evitar esta
interferência. Deverão ainda ser tabuladas em ordem decrescente de
possibilidade de adoção, cada uma das ações inimigas prováveis. É importante
ressaltar que cada ação provável do
inimigo listada deverá ser considerada nos critérios de factibilidade de
execução e se afetará a missão de forma importante. Ações não factíveis devem
ser desconsideradas após análise, porém desfazer-se de ações relativamente
improváveis mas factíveis, pode resultar em surpresas desagradáveis, podendo o
inimigo adotá-las se levar em consideração que foram desprezadas.
Uma PI que deve sempre ser considerada é a de frustração da mobilidade
das forças que irão executar a missão. O inimigo pode ser capaz de realizar
simultaneamente múltiplas ações combinadas, que afetarão de modos particulares
o cumprimento da missão. As PI elencadas devem especificar claramente essas
múltiplas ações, sob pena de conclusões incorretas acerca da capacidade de
cumprimento da missão. A avaliação das PI não é um processo estático, devendo
prosseguir durante as 3 Etapas do Planejamento.
Em seguida se analisa, apenas com as PIs consideradas, a ordem de
probabilidade de sua adoção pelo inimigo. Prioriza-se as PIs que ofereçam
maiores vantagens ao inimigo, com menores riscos; após as que oferecem um
melhor aproveitamento das características da área de operações, associadas às
deficiências e vulnerabilidades das forças amigas e por último as ações atualmente
sendo executadas pelo inimigo (histórico recente). Ao comandante caberá a
palavra final desta análise.
Linhas de Ação (LA)
Uma Linha de Ação é um plano factível capaz de cumprir a missão. Ela
será construída como resultado nos dados e conclusões da fase 2. Deve exprimir
o que deve ser feito para o cumprimento da missão e de que forma (que ações
serão tomadas), impondo, se for o caso, os limites a serem observados (regras
de engajamento), sempre em linguagem simples e clara, evitando interpretações.
Como exemplo de LA corretamente redigidas podemos citar: “Destruir a
ponte sobre o Rio das Correntes usando explosivos plantados”, ou “Ocupar a
subestação do Bairro Formiga em Rio das Algas sem danificá-la severamente, e
estabelecer lá um ponto forte”. A ação poderá ser omitida quando seu enunciado
causar redundância. Num enunciado “Prover o bombardeio da Área Alfa em
preparação ao assalto pela infantaria em D+1 às 0500 pelo Grupo de Artilharia”,
pode ser omitido a unidade que irá realizar, pois a missão já é implícita,
considerando o grupo de artilharia orgânico da grande unidade que está
executando a missão. Se o bombardeio tivesse que ser executado pela aviação
tática, aí sim seria importante enunciar a unidade executora.
Após enunciar uma LA o comandante deve rever seu entendimento da
situação quantas vezes achar necessário, de forma a ter certeza que a LA
escolhida é a mais adequada. Devem pesar a capacidade da LA de cumprir com os
efeitos desejados e se as suas forças destacadas para esta missão tem a
capacidade de cumprir de forma eficaz com suas comissões. Múltiplas LA
preliminares podem ser elaboradas para se chegar a uma linha LA de ação definitiva,
pois quase sempre haverá mais de um modo de executar uma ação e com o emprego
de mais de um sistema de combate.
Muitas ações devem ser executadas para a consecução de uma LA, e a estas
denominamos requisitos, que podem ser classificados quanto a sua importância em
imprescindíveis (se não for cumprido a LA não será exitosa), importantes
(aumentam em muito a possibilidade de sucesso da LA) e desejáveis (se possíveis, facilitam a tarefa a ser executada). Também podemos dividir os requisitos
quanto a sua natureza em ofensivos (finalidade de LA), defensivos (garantem a
execução), logísticos (suportam a execução), de inteligência (orientam a
execução), de movimento (mobilidade da execução), de adestramento (preparo da
execução) e de apoio (ações multiplicadoras de força e facilitadoras). A ênfase
em cada requisito dependerá da natureza de cada LA. Outros tipos de requisitos
poderão se fazer presentes em situações particulares, e cada um destes poderá ser desdobrado em 2 ou mais. Os requisitos devem ser
compostos pelo "o
que", "como" e "onde", quais as forças
envolvidas e por quanto tempo cada ação deve perdurar.
Adequabilidade, Exequibilidade e Aceitabilidade de
uma LA Provisória
Uma LA é adequada se puder, por si própria, cumprir a missão. Seus
efeitos devem ser compatíveis com a essência e magnitude da missão e capaz de
ser executada dentro do tempo máximo suportável para a situação. Se uma LA
parecer apenas parcialmente adequada, deve-se agregar a ela as ações necessárias
a satisfazer a condição desejada, ou então ser abandonada. Também não poderá ser mais
ou menos adequada do que outra, uma vez que, ou ela cumpre ou não cumpre a missão,
o que a faz objetiva e absoluta.
Uma LA é exequível se puder ser implementada com as
forças e tecnologia disponíveis e dentro do tempo máximo suportado para a
situação, e ainda capaz de suportar a pressão que o inimigo envidará para
frustá-la. Avaliar se uma LA é exequível ou inexequível, em face da oposição do
inimigo, é subjetivo. Isso significa que pode haver diferentes opiniões quanto
ao julgamento da possibilidade de êxito. Uma vez definida a possibilidade de
êxito, a LA não poderá ser mais ou menos exequível que outra, uma vez que ela é
possível ou não de ser implementada, o que a faz subjetiva e absoluta.
Uma LA é aceitável se os resultados compensarem os custos
decorrentes. Perdas prováveis, determinadas pela prova de exequibilidade, servirão
de base para esta análise, devendo ser considerados os quesitos pessoal, material,
tempo e posição. Deve-se evitar inclinar-se a um otimismo exagerado e o
comandante deve aceitar a inevitabilidade de perdas na sua força, desde que
esta perda obedeça a certos limites. Os ganhos numa interação com o inimigo devem ser confrontados com a capacidade da própria força continuar operacionalmente
significativa. Podem haver opiniões divergentes quanto à
aceitabilidade de uma LA, dependendo de quem a esteja avaliando. Além disso, ela
poderá ser mais ou menos aceitável do que outra. Isso significa que, para cada
LA provisória formulada, poderá haver uma "probabilidade de êxito"
diferente, o que a faz subjetiva e relativa.
Todas as LA Provisórias devem ser testadas nestes
critérios o quanto antes e se não os cumprirem, imediatamente abandonadas ou
alteradas.
O julgamento da exequibilidade
e da aceitabilidade de uma LA Provisória requer uma análise extensa, e
no que se refere à adequabilidade, essa análise é mais simples e pode ser feita
antes das demais. A prova preliminar de adequabilidade e e de exequibilidade
são inicialmente aplicadas após a formulação e,
posteriormente a qualquer momento sempre que o conceito da operação sofra
modificações ou mudem as forças à disposição. A prova final será aplicada na
Fase 4 desta Etapa, após o levantamento das Vantagens e Desvantagens das LA.
Pode ser conveniente combinar 2 ou mais LA Provisórias
para formar outras mais refinadas, caso as primeiras se tenham mostrado
parcialmente válidas. Nesta situação deve-se retornar aos
subitens anteriores, onde as novas LA serão relacionadas, formulados os seus conceitos
sumários, e submetidas à prova, para que sejam verificadas as suas validades.
Assim, mais uma vez, a natureza cíclica do processo possibilita o
aperfeiçoamento do planejamento. Cabe ressaltar que uma LA se distingue de
outra, basicamente, por meio de diferenças em pelo menos um dos seus seguintes
aspectos de efeitos desejados, operações e/ou meios empregados.
Confronto LA x PI
Neste tópico se confronta as LA Provisórias com cada PI. É uma análise dinâmica, na qual cada ação é
considerada como uma variável independente interagindo com outras, simultânea
ou sucessivamente. Dessa forma se elenca as várias ações que as forças
destacadas terão que empreender para executar a LA, revendo e ampliando os
conceitos, através da inclusão de alguns detalhes, e de maneira semelhante,
considera as ações detalhadas de cada PI, inclusive como seriam implementadas.
Em cada confronto analisado, conclui-se
quanto às capacidades do inimigo em se opor a cada LA, às perdas prováveis, à
necessidade de subdividir as forças, às ações alternativas convenientes, o grau
de eficiência estimado da LA na medida em que ela cumpre a missão, os aspectos
relacionados com o tempo, etc. É um jogo de guerra mental.
Cada LA é confrontada com cada
PI, observando-se os seguintes subitens:
As ações que o Inimigo pode
executar para realizar a PI. Descreve-se como seriam implementadas as ações pelo
inimigo, que possam interferir com a LA a ser confrontada. São
especificados como, quando e onde o inimigo pode atuar,
para obter o efeito desejado da PI considerada.
As ações que
devem ser executadas para realizar a LA, em face da oposição dessa PI, que devem
ser expandidas e detalhadas em face da PI a ser confrontada. Assim, da mesma
forma que no item anterior, especifica-se como, quando e onde pode
ser disposta a força destacada.
Fase 4 - Comparação e Escolha das
Linhas de Ação
Após as LA
terem passado pela prova AEA (adequabilidade, exequibilidade e aceitabilidade)
elas devem ser comparadas para que uma seja a escolhida.
Em primeiro
lugar deve-se confrontá-las, comparando suas vantagens e desvantagens, de forma
a escolher a melhor delas. Um pequeno roteiro facilita esta comparação utilizando
os quesitos: mais ofensiva ou defensiva, maior liberdade de ação, maior concentração
de forças, melhor unidade de comando, maior surpresa, maior simplicidade, menos
necessidade de informações, menos dependência da área de operações, maior favorecimento
de operações futuras e maior economia de meios.
Estes conceitos dependem de julgamento pessoal e,
portanto, 2 ou mais comandantes poderiam chegar a conclusões divergentes.
Assim, uma determinada LA pode parecer perfeitamente exeqüível para um comandante
ousado e agressivo, mas inexeqüível para outro mais cauteloso. Além disso,
geralmente há um certo grau de aceitabilidade associada a cada LA,
estabelecendo, desta forma, o que se pode denominar de uma aceitabilidade
relativa. Para determinar a aceitabilidade relativa, são importantes os
resultados esperados pela execução com sucesso da LA.
Antes de selecionar uma das LA para a decisão, deve-se
submeter todas elas à uma prova final, na qual a riqueza de detalhes dependerá
das provas já realizadas e dos resultados de análises posteriores complementares,
efetuadas nas fases anteriores. Ao considerar a aceitabilidade da LA, deve-se
enfrentar realisticamente a possibilidade de insucesso. Se for considerada que
uma LA é aceitável sem levar em consideração uma margem de segurança, qualquer imprevisto
poderá facilmente invalidar esta LA na prática e comprometer a operação.
Após a análise final, pode-se concluir que nenhuma
das LA em pauta atende as condições que se busca. Nesse caso, deve-se novamente
buscar a combinação das LA existentes, reiniciando o processo. Caso mesmo assim
as conclusões sejam insatisfatórias, os resultados devem ser encaminhados ao
escalão superior para decisão final, onde se assume o ônus de sua adoção ou se
busca alternativas. O escalão superior pode ter uma visão diferente das
análises feitas e decidir pela sua adoção ou não. Somente quando há condições
impostas pelas autoridades superiores, o comandante pode ser parcialmente
relevado da responsabilidade quanto à sua decisão, sempre no mesmo nível do que
for condicionado. Uma matriz de decisão com os critérios já citados (logística,
operações futuras, maior surpresa, etc...) pode auxiliar nesta comparação.
Fase 5 - Decisão sobre a LA escolhida
Após a decisão tomada, esta deve ser expressada
como um “Plano de Ação”, trazendo informações do que fazer e como fazer,
podendo ainda dizer como e onde. Pode ainda trazer as restrições que forem
necessárias. Se a LA for pré-determinada, a própria tarefa será a decisão elencada. A
decisão deverá ser clara, objetiva e concisa, prezando pela simplicidade; de
forma que todos a compreendam de forma inequívoca. Ao “Staff” da unidade
designada, caberá o detalhamento da operação, seja uma divisão ou um grupo de
combate, salvo se for decidido de outra forma.
2ª Etapa - O Plano de Ação e Emissão de Diretiva